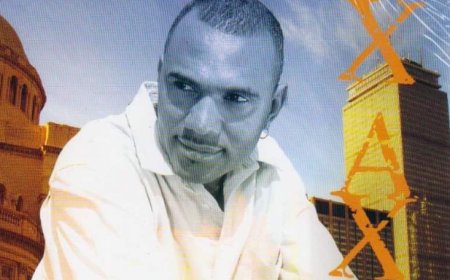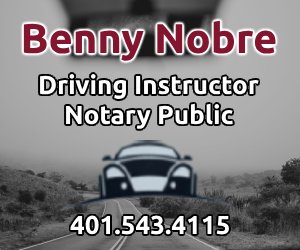Ilha Brava: Onde a tranquilidade nao tem limites
A Brava é um paraíso para os amantes das caminhadas em contacto com a natureza, o trekking. Com 67 quilómetros quadrados, visitável num dia se o meio for o automóvel, a ilha é perfeita para caminhadas porque assegura o reconhecimento lento e fascinante dos sucessivos recortes do litoral e das vistas panorâmicas de rara beleza. No horizonte surge frequentemente a imagem imponente e austera do vulcão da Ilha do Fogo, apenas a 20 quilómetros de distância, contrastando com as mil e uma cores deste pequeno território, também conhecido como “ilha das flores”.

A Brava é um paraíso para os amantes das caminhadas em contacto com a natureza, o trekking. Com 67 quilómetros quadrados, visitável num dia se o meio for o automóvel, a ilha é perfeita para caminhadas porque assegura o reconhecimento lento e fascinante dos sucessivos recortes do litoral e das vistas panorâmicas de rara beleza. No horizonte surge frequentemente a imagem imponente e austera do vulcão da Ilha do Fogo, apenas a 20 quilómetros de distância, contrastando com as mil e uma cores deste pequeno território, também conhecido como “ilha das flores”.
Eugénio Tavares diz que da Brava para qualquer ponto os ventos são sempre de proa, o mar é sempre picado, as correntes sempre contrárias, o céu sempre toldado e prenhe de ameaças. Mas o regresso é a fresta, o mar é de rosas e os ventos de feição.
A propósito do povoamento da pequena ilha de São João, posteriormente chamada de Brava, Eugénio Tavares conta a seguinte estória: nos primeiros tempos da colonização, quando «os donatários das terras descobertas enviavam caudais de sangue português para os seus domínios», desembarcou naja próspera ilha do Fogo «uma família vassala, gente da mediania adstrita ao serviço das casas senhoriais». Tinha acontecido o trágico azar de o filho primogénito «da casa senhorial» se ter loucamente enamorado da filha «da família vassala» e os pais daquele, não querendo ver o seu ilustre sangue conspurcado em mistura com gente quase plebeia, decidiu desembaraçar-se da família proscrita deportando-a para a ilha do Fogo. Porém, «numa das caravelas teria vindo a família alvejada pelos preconceitos de sangue; e em outra, clandestinamente, o jovem fidalgo enamorado, que tudo abandonara para seguir a Formosíssima plebeia que se fizera estrela do seu destino».
Ora o Fogo era nessa altura governado por um capitão-mor de índole bárbara que, para desgraça de todos, ficou deslumbrado pelos encantos da rapariga. «Incendiou-se-lhe a víscera mais nobre, e pensou em pôr em prática, servindo sua paixão, as recomendações que de Portugal lhe tinham chegado em relação à família degredada.»
E em verdade a coisa esteve feia para o lado dos enamorados, o capitão-mor tudo fazendo para separá-los e ser ele a desfrutar a beleza da moça, o casal apaixonado resistindo como lhe era possível naquela luta desigual, «até que, à beira de um precipício pavoroso, por uma desabrida noite de Setembro, os vigias de serviço nas eminências sobranceiras à praia, não enxergaram, sequer, duas lanchas que se despegavam da sombra da rocha e se lançavam para o mar, arrebatadas como plumas nas asas do sueste que fazia galopar, canal abaixo, bandos de tritões de esparsa crina luarenta. Ao amanhecer as lanchas aportavam ao remanso da Fajã d’Água, na sombra protectora do Garbeiro».
E assim se inicia o povoamento da Brava através dessa Eva com o seu Adão, e tão bem cresceram e se multiplicaram que quando João da Fonseca chegou à ilha com os seus madeirenses encontrou ali já instalada aquela «raça branca, perfeita de linhas físicas, elevada de perfil moral, dotada das eminentes qualidades dos povos superiores», como Eugénio Tavares descreveria o seu povo em 1928.
Mas não são muitos os escritos sobre a Brava. Dada a situação periférica da ilha, ela é considerada como tendo tido pouca importância no conjunto cabo-verdiano no século XVII, a época da nossa história que se encontra mais bem documentada. No entanto, mesmo que não fosse por essa estória de amor, a ilha Brava estaria fadada a ficar na história de Cabo Verde pelo facto de ter sido a Mãe de dois dos maiores vultos político-literários que estas ilhas até hoje produziram: Luís Loff de Vasconcelos e Eugénio de Paula Tavares.
Situada no extremo sudoeste do arquipélago, a Brava emerge abruptamente do mar em forma de um polígono ligeiramente alongado na direcção norte-sul. Dizem os entendidos que a sua morfologia foi condicionada por uma actividade vulcânica relativamente moderna e que o Fundo Grande, uma circunferência com cerca de 600 m de diâmetro e onde fica situada a vila de Nova Sintra, não é senão a chaminé principal do vulcão que hoje constitui a quase totalidade da ilha. É por isso que, com ou sem apoio técnico, se afirma à boca cheia que a Brava tem a forma de um cálice de finíssima haste, que qualquer dia pode partir-se e a ilha afundar-se no mar profundo. Assim o vulcão nos dê um longo prazo, devem rezar com fervor todos os bravenses, sabendo como ele está perto.
Da Brava ao Fogo são apenas 17 km, mas são 17 km de um mar complicado e penoso de transpor. Eugénio Tavares deu dessa dificuldade uma ideia poética ao escrever que da Brava para qualquer ponto os ventos são sempre de proa, o mar é sempre picado, as correntes sempre contrárias, o céu sempre toldado e prenhe de ameaças. Felizmente que o regresso é uma festa, de qualquer ponto para a Brava todos os santos ajudam, o mar é de rosas e os ventos sempre de feição… Está-se mesmo a ver: entre muitas outras coisas nho Eugénio era sobretudo um poeta de grande sensibilidade, da pena dele a língua portuguesa saiu grandemente valorizada, mas do mesmo modo também o crioulo que ele prestigiou e enobreceu, fazendo com que deixasse o quintal e as balbúrdias do pilão a cochir milho ou a preparar farinha para cuscus para entrar na sala de visitas, colegar com outras línguas através das mornas que, como já profetizava o poeta José Lopes da Silva, nunca morrerão nos lábios dos cabo-verdianos.
Eugénio Tavares é bem um exemplo do poder aculturador destas ilhas. Filho de um português de Santarém e de uma cabo-verdiana do Fogo, ele ficaria órfão ainda criança. De estudos oficiais apenas fez a instrução primária e no entanto foi um dos homens mais dotados do seu tempo, tendo-se notabilizado como político, jornalista, compositor, poeta e dramaturgo. Nascido em 1867, apresentou-se sempre como defensor dos ideais republicanos, o que de forma nenhuma é de se estranhar, um homem da sua estatura intelectual tinha forçosamente que ser republicano. E embora perseguido por muitos inimigos, o seu valor foi reconhecido não só ainda durante a vida mas também, como expressivamente refere Nobre de Oliveira, foi talvez o único cabo-verdiano cuja morte foi anunciada na primeira página do Boletim Oficial, honra reservada apenas aos heróis da pátria e aos chefes de Estado: «Em sufrágio da alma de Eugénio Tavares, excelso poeta cabo-verdiano, que com tanto sentimento e génio cantou a alma da sua terra, honrando as letras portuguesas, o governador de Cabo Verde, coronel Guedes Vaz, convida a população da cidade da Praia a dar a sua piedosa assistência à missa do oitavo dia que se realiza na próxima segunda feira, 9 do corrente, pelas 10 horas, na igreja paroquial desta cidade.»
Augusto Casimiro, um português que visitou as ilhas de Cabo Verde por volta de 1940 e escreveu um livro de viagem com o nome de Portugal Crioulo, com um capítulo dedicado a cada uma das ilhas, cita no Descoberta da Brava uma moça da ilha que ao falar do poeta terá dito «quando nho Eugénio morre, n’pensa dja Braba já acaba».
É uma homenagem de uma ternura a que não se fica insensível, a desse português que, tal como nho Eugénio, também tirava versos. Vamos, pois, tentar, se não conhecer, pelo menos abordar a Brava através de Augusto Casimiro. Como nós, ele esteve primeiro no Fogo e agora quer ir dali para a Brava. Num navio chamado América, tanto naquele tempo como ainda hoje tem que ser de barco, a Brava é a única das nossas ilhas que ainda não tem pista para avião.
Portanto Casimiro vai por mar, está tudo apalavrado com o capitão do América. Porém, por qualquer razão incompreensível, verifica-se um desentendimento entre as partes e o navio acaba por partir sem ele e já está ao largo de velas içadas. Alguém garante ao desesperado poeta-viajante que, à força de remos, num bote leve e veloz ainda apanham o fugitivo, pois que o vento está frio e não sopra de feição. Ele duvida um pouco, mas acaba por aceitar, no fundo no fundo não tem nada a perder com a tentativa. E de facto! Algumas horas depois atracam ao América e Casimiro salta para dentro.
É verdade! O vento está fraco e o América move-se lentamente, devagar, quase parado. Claro que hoje já não é assim, hoje já temos ferry-boats. Antes era o Furna, um barquinho pequeno e muito amigo de balançar no mar como quem dança uma fogosa coladeira, um tipo de dança nacional que o médico-escritor Sócrates da Costa classificou em 1875 de «licenciosa na forma e libertina na intenção». Mas agora não, agora temos a Praia d’Aguada, um barcão até grande de mais para os pequenos limites da ilha, mas em Cabo Verde continua a ser assim: ou oito, ou oitenta!
Braba!, disse Augusto Casimiro repetindo o grito dos descobridores diante daquela costa de basalto que à primeira vista lhe parece inacessível, feita de falésias, espinhaços a pique, terraços de lava. Do meio do Canal ele só vê névoa, uma névoa que cobre a ilha como um sudário. Por causa dessa densa e permanente neblina, o anónimo que escreveu a Notícia Corográfica e Cronológica do Bispado de Cabo Verde afirma que só sete anos depois de se chegar ao Fogo se avistou a Brava ali a pequena distância. Essa tese, porém, não tem merecido acolhimento, pelo contrário, toda a gente lhe torce o nariz tão improvável parece, mesmo à vista desarmada a ilha está ali a furar os olhos da gente.
Mas o América avança, o sol desponta e a Brava aproxima-se, e doiram-se os basaltos nus aos afagos do sol e das ondas. Depois as águas iluminam-se e amansam e está-se no Porto da Furna, lagoa azul entre muralhas altas… É assim dessa forma entre mítica e poética que Augusto Casimiro descobre e descreve a ilha Brava, vê-se que é um homem que chega disposto a gostar de tudo que vai ver, até porque ele mesmo admitia como provável que um dia viesse a governar as ilhas, de modo que daqui só queria levar amigos. Não chegou a acontecer, mas ao menos deixou-nos belas páginas não só do pitoresco como também do maravilhoso da ilha.
Porque, se calhar por causa da fatal proximidade do potencial perigo que representa para a pequena Brava a terrível vizinhança do vulcão do Fogo, ela é uma ilha carregada de lendas, quase todas relacionadas com a constante ameaça desse sobressalto. Entre muitas outras o Almanaque das Lembranças refere uma contada em 1890 por um certo Libanio Matto Grande, segundo a qual um dos montes da ilha de nome Cruz do Frade teria sido em tempos o terror dos habitantes dos lugares de Sant’Ana, João de Nolla e Pé de Rocha. Isso porque todas as noites se ouvia lá no seu cume um constante martelar e o ruidoso sopro de um imenso fole, enquanto línguas de fogo avermelhavam sinistramente as montanhas do Serrado e de Tina, subindo depois ameaçadoras até às nuvens. Isso por toda a noite. Ao amanhecer ouvia-se então o tropel de inúmeros cavalos desaparecendo no nada, relinchando ao som das gargalhadas libertinas dos seus cavaleiros.
Era uma coisa medonha que mantinha amedrontados grandes e pequenos da ilha, sobretudo porque não era segredo nenhum o que estava a passar-se ali em cima. Isto é, que eram os génios do inferno que tinham escolhido precisamente o monte da Cruz do Frade para no seu cume construírem uma fornalha igual à outra que tinham construído sobre o pico da ilha do Fogo e que deveria ter como função servir de sucursal da primeira.
A população andava em pânico, temendo o dia em que a maldita fornalha fosse dada como pronta e entrasse em função. É que sendo a Brava uma ilha de apenas 64 quilómetros quadrados, porém densamente povoada, não haveria lugar para as pessoas se esconderem da eventual fúria dos malvados demónios. Passavam, pois, os dias em pranto e orações, mas Deus parecia surdo aos seus apelos porque em cada noite os assustadores ruídos pareciam recrudescer. Até que, condoído do seu povo, um velho padre que há muito tempo estava na ilha resolveu desafiar os génios do mal, perecer no seu combate ou vencê-los no seu terreno, o que era certo é que tinha que haver uma maneira de pôr cobro à intolerável aflição dos seus paroquianos. E certa noite do mês de Novembro, escura e medonha como refere a lenda, com a chuva caindo lenta e penetrante, o padre armou-se de uma cruz de madeira e deu início a uma penosa escalada até ao cume do rochedo.
Ainda que escura a noite, os de cima viram o assaltante subindo lenta mas teimosamente a montanha maldita. E logo deram início a um ataque cerrado e impiedoso, fazendo rolar contra o velho enormes e inúmeros penedos em brasa, qualquer deles suficiente para esmagar uma casa ou uma povoação inteira quanto mais uma pessoa. Porém, os rochedos desciam ameaçadores por aí abaixo, saltando de quebrada em quebrada, e quando chegavam perto da cruz desviavam-se como que empurrados por uma força milagrosa, permitindo assim ao velho prosseguir a sua lenta mas segura caminhada.
Os de cima acompanhavam a marcha inexorável do velho em direcção a eles e aquela teimosia fê-los tremer e também lançar mão de armas de maior potência. E pouco depois grandes labaredas cingiam os rochedos, criando um círculo de fogo que parecia perfeitamente inexpugnável, tanto mais que por efeito do abrasador calor as próprias pedras já crepitavam, estalando e voando em rubros estilhaços até ao fundo do vale, mais ainda amedrontando os pobres habitantes. Porém, coisa curiosa, à medida que o cura avançava, o cinto de fogo parecia recuar para o alto da montanha.
No chão da ilha eram poucos os audazes a acompanhar a escalada do padre. Mas esses, ainda que tremendo de medo, puderam depois contar aos filhos a verdadeira batalha travada lá no alto da serra entre Deus e o Diabo, os dois em pessoa, quando o padre ali chegou. Porque sentindo-se devassados no seu espaço, os demónios reuniram os últimos esforços e sacudiram violentamente toda a ilha, ao mesmo tempo que faziam abrir enormes fendas na rocha que vomitava fogo e enxofre a um ritmo alucinante. Os de baixo viram o padre tremer e hesitar um pouco diante desse ataque feroz que tinha todo o ar de ser mortífero. Viram-no também cair de joelhos e levantar a cruz de madeira, enquanto uma grande nuvem de fumo negro o envolvia por largos minutos.
Todos o julgaram morto, e eles já perdidos pela avalanche que adivinhavam viria impiedosamente por aí abaixo para os esmagar. Porém, ao mesmo tempo que ouviam um grande urro mas já em forma de estertor, viam o fumo negro se dissipando e depois o seu padre rocha abaixo, agora perseguido já apenas por uma ou outra praga soltada pelos agonizantes demónios. Nunca mais foram perturbados pela fornalha temerosa. Bem, como todas as lendas, essa também está assente sobre uma qualquer verdade. De facto, o vulcão da Brava nunca entrou em erupção plena desde que a ilha foi povoada, mas sem dúvida que há ali uma considerável actividade sísmica, ainda que em forma de abalos de fraca intensidade. E pela chaminé principal desse vulcão já aconteceu a expulsão de cinzas e outras matérias que cobriram a ilha por completo.
A Brava foi descoberta em 1462 por Diogo Afonso, escudeiro de D. Henrique. Isto é, há muitas dúvidas sobre isso, mas também é um pormenor, tal como aliás a presunção de que inicialmente terá tido o nome de Ilha do São João por ter sido descoberta no dia 24 de Junho. Não obstante a lenda do casal rebelde, o que se sabe é que só terá sido povoada por volta de 1545, por ordem de um certo João da Fonseca que para ali levou colonos da ilha da Madeira, dos Algarves e do Minho, para além de alguns europeus encontrados aqui e acolá. O que é seguramente verdade é que em 1489 a ilha já tinha gente. Conclui-se isso da doação feita por D. João II ao seu escudeiro, Lopo Afonso, de todas as minas de ouro, prata, cobre e enxofre ali existentes, dizia o rei que em paga dos muitos serviços por ele já prestados.
Lopo Afonso ficou também com o direito de posse de quaisquer outros metais que descobrisse na ilha, não só para ele como também para a pessoa a quem deixasse como herdeiro das suas minas. Porém, não parece que tenha encontrado grande coisa a nível de minérios ou metais preciosos, e terá certamente abandonado a empresa como inútil, porque e 1509 D. João III confirmava aos herdeiros de Francisco da Fonseca o direito de explorar os engenhos de limpar algodão que seu pai tinha feito na ilha. Segundo a petição que esses herdeiros fizeram ao rei, o pai tinha feito muitos gastos e despesas na instalação dessas máquinas, inclusive tinha levado para lá alguns escravos e escravas, e até tinha comprado uma caravela para o transporte do algodão, pelo que pediam a manutenção da ilha na sua posse, como forma de se ressarcirem das despesas e dívidas paternas. O rei acedeu, disse porém que com a condição de não molestarem o gado que vivia livremente no campo, guardado por pastores escravos.
É verdade! Antes de descobrir a sua vocação agrícola, a Brava teve uma intensa actividade pecuária, chegando mesmo a ter nas suas pastagens para cima de duas mil cabeças de gado vacum, e procedendo à exportação de animais vivos e mortos e também de peles e sebos. No entanto, em 1840 a Brava já era apelidada de «Cintra de Cabo Verde», isso por ser de todas as ilhas a mais cultivada. «Não há um bocado de terreno que não esteja aproveitado com alguma espécie de cultura», diz o Sempalhudo que enumera o milho, o feijão, a batata-doce, a banana, a abóbora e a mandioca como produtos da terra e alimento dos habitantes, para além de que «fabricam-se na ilha até 150 pipas de mau vinho».
É de crer que o João da Fonseca, colono de 1545, seja um sucessor do primitivo Francisco da Fonseca. De todo o modo, mercê dele e do casalinho perseguido, a Brava é ainda das ilhas mais brancas de Cabo Verde e, pelo menos até aos anos sessenta do século XX, o facto era motivo de grande orgulho para a sua população que continuava apostada em manter a pureza da sua raça. E é até muito natural que tivesse conseguido esse objectivo, se no ano de 1680 não tivesse acontecido um terramoto de grande violência na ilha do Fogo. Conta-se que uma enorme explosão de lavas abalou a ilha, destruindo fazendas e animais, e chegando mesmo a ameaçar as pessoas. De tal forma que alguns proprietários, sobretudo aqueles cujos bens tinham sido arrasados pelas fúrias, entre os quais se encontravam alguns casais de negros libertos, acabaram por apressadamente mudar a sua residência para a vizinha Brava. E dali à miscigenação foi um passo, está provado que ninguém resiste ao doce encanto das mulatas, bem entendido que não desfazendo das outras. Mas mesmo assim a Brava conseguiu manter-se até hoje como a menos africanizada das ilhas do arquipélago, embora o próprio Augusto Casimiro fale com deleite de um mergulho no mar na companhia de «um resultado» dessas deliciosas misturas, uma certa Bei de corpinho impúbere e da cor das tâmaras maduras, com olhos negros de uva.
Casimiro encarece a bondade, o fundo amorável das pessoas, o seu carácter doce e tão contrário àquela acusação de terem impedido a entrada aos vizinhos do Fogo com medo do contágio da peste, e eu lembro-me do capitão George Roberts, com quem aliás já cruzámos no Sal e que daqui a algum tempo voltaremos a encontrar em São Nicolau. Roberts deixou uma comovedora descrição da vez em que naufragou na Brava e de como os habitantes da ilha o ajudaram a construir uma lancha. Ele andava por ali desorientado, sem nada que fazer e sem meios de sair dali e deu-lhe na ideia construir um naviozinho. Para começar fez uma geral visita à ilha para saber que ferramentas nela havia com que pudesse contar para o fim em vista. Diz que encontrou pouca coisa, apenas três machados, uma espécie de cutelo de carniceiro, duas verrumas mais ou menos do tamanho dum prego de vinte polegadas, uma cavilha muito grande, um pequeno maço, um martelo de unhas, uma espécie de martelo de sapateiro e um martelo de duas cabeças com o peso de umas três libras.
Foi depois disso que deu a conhecer o seu desígnio ao feitor da ilha, que sem delongas intimou todos os habitantes a reunir-se diante da sua casa. E ali ele lhes fez um discurso indicando o motivo da reunião e o quanto seria caritativo e bom ajudar o forasteiro no seu trabalho, para além de que isso muito contribuiria para a reputação dos bravenses no exterior. Toda a gente respondeu de pronto, acedendo inteiramente ao pedido e dizendo mesmo que Roberts podia dar-lhes as ordens que entendesse. Tinham muita pena de vê-lo ali naquela vida mesquinha, de modo que embora possuíssem apenas três machados, todos aqueles que os sabiam manejar iam tomar parte nos turnos dia após dia, para que os machados nunca estivessem parados. Aqueles que não os sabiam manejar carregavam as tábuas e madeiras, depois de cortadas e secas, para as pôr no sítio que Roberts escolheu para construir a lancha. Diz ele que todo o plano foi posto em execução como combinado, com os bravenses a não o deixarem trabalhar para cortar as árvores, abri-las e desbastá-las para fazer as tábuas. Diziam-lhe que reservasse as forças para a construção da lancha, trabalho que eles não podiam fazer porque não sabiam.
Roberts fala com franca admiração da especial habilidade dos nativos para fender as árvores. Faziam assim: depois de terem cortado a árvore num comprimento próprio para dar uma tábua que raramente excedia sete ou oito pés, embora às vezes atingissem doze a catorze pés de comprimento, eles estendiam a peça ao comprido, calçavam-na com pedras para que não rolasse e então abriam um canal ou uma valeta, o mais estreita possível, e profunda. Depois, viravam a peça exactamente ao contrário da posição anterior, e com os machados cavavam outra valeta igual e oposta à primeira. Então, apanhavam pedras em forma de cunhas, bastante grossas para encher a largura da valeta mas sem tocar no fundo.
A seguir, agarravam em grandes pedras, as maiores que podiam levantar, e de pé junto à peça de madeira lançavam-nas com toda a força sobre as cunhas de pedra. Repetiam isto até rachar a peça, o que não demorava muito, contanto que fizessem as valetas bastante fundas. Depois de terem rachado a peça de madeira, desbastavam as faces para as desempenar o melhor possível, em geral de forma bastante regular. Trabalhavam então a outra face até à espessura de duas polegadas. Eles não as podiam desbastar para ficarem desempenadas como faria uma serra, mas também não aceitavam desbastar tendo uma linha como referência pois, diziam, ela podia ser uma guia para os brancos, porém nunca se tinham servido de uma linha e por este motivo ela os embaraçava em vez de os ajudar a cortar a direito.
E digamos para terminar que Roberts foi no mínimo ingrato para o povo da ilha. Porque, no meio das suas pesquisas de árvores para construir o seu navio, acabou descobrindo a planta da urzela. Porém, não comunicou o facto a ninguém e em vez disso foi secretamente dar parte desse achado ao governo espanhol, que no imediato mandou súbditos seus proceder à colheita do musgo a preços irrisórios para a população.
Roberts esteve na Brava por volta de 1720, Augusto Camisiro mais de duzentos anos depois e no entanto é verdade que ambos reflectem a morabeza desse povo de extrema candura e de uma amabilidade sem limites. Por exemplo, na parte não oficial de um dos números do Boletim Oficial de Abril de 1847 está inserta uma carta de um tal P. Berindoague, comandante de uma barca francesa de nome Basque que, saída do Havre em 22 de Fevereiro com destino a Pernambuco e levando a bordo 17 pessoas, entre elas duas mulheres e uma menina, supõe-se que por um erro de rota ou alguma variação na agulha se despedaçou inteiramente no baixo do Anel no norte do ilhéu Rombo. O navio levava importante carga, de que no entanto só se salvaram seis barris de manteiga e alguma madeira. Ainda que apenas com o que tinham vestido no corpo, no caso das senhoras apenas em camisas de dormir, todas as pessoas foram ter ao ilhéu, assim se salvando de morrer. Ora, nos oito dias seguintes ao desastre houve tal cerração que da ilha da Brava nunca chegaram a ver os inúmeros sinais que os náufragos passaram o tempo a fazer. Então, desesperados e sem alimentos, pois que no ilhéu não encontraram nada de comer, o capitão e mais as senhoras e mais quatro homens resolveram servir-se de um escaler que se tinha salvado mas que estava todo aberto e a meter água, a ver se conseguiam demandar a ilha. Por causa das correntes contrárias, só conseguiram alcançar o porto dos Ferreiros no outro extremo da ilha, onde chegaram quase nus e mortos de cansaço.
As maneiras de todos eles e a sua extrema miséria era tal que toda a gente se apressou a fazer-lhes algum bem: um dava-lhes uma camisa e umas meias, outro um chapéu e um par de botas, outro umas calças, outro uma sobrecasaca… Enfim, arranjaram-se, se não bem e comodamente, ao menos, para a terra e para a ocasião, menos mal. No dia seguinte foram no bote do administrador da Brava, José Roberto da Silva, buscar os seus companheiros e durante os dias que ficaram ali foram todos agasalhados nas casas dos habitantes. Refere ainda a nota de agradecimento que, no Monte, as mulheres que não tinham nada que oferecer às náufragas iam chorar e rezar com elas, o que era uma consolação para a alma já que não tinham meios para lhes dar com que cobrir a nudez do corpo.
Quando os franceses deixaram a ilha tinham nos olhos lágrimas de gratidão e escreveram uma comovida carta ao administrador e seus administrados na qual expressavam os seus sentimentos de reconhecimento pela forma hospitaleira como tinham sido recebidos e tratados: «Nem a minha tripulação, nem os meus passageiros, nem eu, esqueceremos nunca o agasalho que os habitantes desta ilha nos acabam de fazer. Cada qual, segundo as suas posses, se desvelou em vir apresentar a sua oferta aos infelizes náufragos, e foi graças a esta solicitude que pudemos remediar, ao menos por agora, a nossa completa miséria», escreveu o comandante Berindoague e Augusto Casimiro confirma essa ingénua hospitalilidade: o ano de quarenta é ano de miséria e de fome, escreve ele, mas mesmo assim levam-lhe oferendas, pequenos mimos: flores, raminhos de plantas, um ovo, uma papaia…
Mas já agora aproveitemos a jornada desse nosso visitante para com ele subirmos até à Povoação. O caminho, diz ele, é um grito lançado à montanha: não a abraça, violenta-a! Nenhuma imagem poderia ser mais bela e forte que esta para descrever o esforço do homem sobre essa natureza vulcânica, prolongamento ainda da agreste e brutal Chã das Caldeiras, no Fogo, mas onde o paciente trabalho fez abrir na montanha vergas e socalcos de leiras que dão pão, repouso e flores…
Não é por acaso! É que a Brava foi sempre a mais húmida de todas as ilhas de Cabo Verde, portanto a mais intensamente cultivada porque onde a fadiga humana é mais justamente recompensada. É por isso que no passado era a ilha que mais exportava em matéria de produtos hortícolas. Sobretudo depois do afluxo das gentes do Fogo e dos seus capitais, facto que representou um imediato contributo para a prosperidade da ilha, particularmente a nível da agricultura. E a acrescer a isso, aconteceu a descoberta da urzela, em consequência do que a ilha passou a despertar uma maior atenção e interesse dos estrangeiros, particularmente dos espanhóis que começaram a desviar os seus navios das ilhas de Santo Antão e São Vicente para os carregar na Brava.
Não obstante o óbvio sedentarismo a que obriga a agricultura, os bravenses são tidos como os cabo-verdianos mais dados ao mar, mais aventureiros. E também mais americanizados, mesmo aqueles pertencentes às classes mais humildes, ainda que extremamente orgulhosos da capacidade de trabalho que normalmente o cabo-verdiano mostra no estrangeiro: não fossem os cabo-verdianos, dizia-me há tempos um arrogante bravense emigrante na América onde trabalha na construção civil, a América ainda não seria nada, somos nós que fazemos grande a América!
Embora periférica e sem um estreito contacto com as demais ilhas, a Brava sempre prestou uma grande atenção às questões ligadas à instrução. Especialmente depois que chegou à ilha o degredado político D. João Henriques Moniz, um clérigo secular e bacharel em cânones formado pela Universidade de Coimbra. D. Moniz era madeirense e durante o governo de D. Miguel ele e outros foram acusados de conspirar contra o Rei e enviados para Cabo Verde. Pato Moniz, por exemplo, ficou no Fogo, Medina Vasconcellos e família na Praia, mas D. Moniz preferiu a Brava como residência e onde, além de pároco da Igreja de São João Baptista, foi também grande professor, tendo sido um impulsionador da criação em 1847 da Escola Principal de Cabo Verde na Brava, sob a direcção do primeiro-tenente Dantas Pereira, sem dúvida responsável pelo elevado grau de instrução e de cultura patente em diversos filhos da ilha como, por exemplo, Luís Loff de Vasconcellos, de quem já falámos bastante neste livro, na verdade um dos mais eminentes intelectuais patriotas de que se honram estas ilhas, em grande parte responsável pela consciencialização política dos cabo-verdianos como povo diferente dos portugueses, não obstante ser filho de um advogado vindo de Portugal. Certamente que sem qualquer ideia de desprimor relativamente aos muitos outros filhos da ilha que se notabilizaram tanto no funcionalismo público como no exército, casos, por exemplo, dos grandes Sena Barcelos, do médico Álvaro Lereno, de Henrique Almeida Leite…
Por sinal que D. Moniz viria a ter uma vida difícil. Porque, com a queda de D. Miguel, ele foi nomeado bispo de Cabo Verde em 1841. No entanto, por razões desconhecidas, apenas em 1846 iria a Lisboa para ser sagrado, regressando no ano seguinte. Ora aqui chegado, nem o governador Noronha o reconheceu como chefe da diocese (razão por que nem lhe foram entregues os bens da Mitra nem lhe foi paga a côngrua) nem o Cabido o aceitou, sequer como prelado da diocese. Nessa altura o Cabido era composto por um tesoureiro-mor e por um cónego, o primeiro mulato, o segundo preto, ambos intransigentes defensores do governo local pelos filhos da terra, de modo que não tiveram qualquer pejo em fazer a vida negra ao novo bispo. Muito desgostoso com isso tudo, D. Moniz acabou morrendo de febre, facto esse que em nada comoveu os colegas, que não só recusaram assistir ao seu funeral como inclusivamente não lhe permitiram a sepultura episcopal na Sé Catedral a que por função tinha direito.
Entretanto a vila da Praia, ainda que cidade desde 1858, continuava «mortífera» não obstante os clamores no sentido de se melhorar o seu estado através do saneamento dos pântanos e a abertura de «sarjas nas chaadas sobre que ela está assentada» e também «canos de despejo que da vila levem ao mar as imundícies que hoje se lançam sobre as rochas», para além da urgência de se construir uma casa espaçosa para o Governador. Mas enquanto isso não se fazia continuava a necessidade de mudança do Governo e de todo o seu séquito para lugares mais salubres, particularmente a Boa Vista. Porém, com a febre-amarela de 1845 o governador Noronha e mais 50 empregados, levando com eles a impressora do Boletim Oficial, fugiram a toque de caixa para a Brava onde acabaram por se deixar ficar mesmo depois de debelada a epidemia. É verdade que já havia uma tradição de os governadores se fixarem na Brava, como tinha acontecido com o oficial da Marinha João de Fontes Pereira de Mello, pai do grande estadista António Maria de Fontes Pereira de Mello, que dessa ilha tinha dirigido a província de 1839, data da sua chegada, até 1942, quando partiu.
Os sucessores de Noronha continuaram a residir na Brava, até que em 1864 ficou superiormente determinado que apenas nos meses de Agosto e Setembro a sede do Governo seria mudada da Praia, devendo então estabelecer-se ou em São Vicente ou na Brava. Ora como São Vicente estava ainda no rescaldo da peste que a tinha consumido poucos anos antes, ao passo que a Brava continuava afamada pela excelência do seu clima, para lá se ficou a mudar o Governo de Cabo Verde, com evidentes prejuízos para o erário público, porém com grandes benefícios para a Brava, como foi por exemplo a instalação de muitos serviços públicos, para além da autorização em 1887 a um habitante da ilha, de nome José Martins da Vera Cruz, para estabelecer e explorar uma linha telefónica para uso público entre o porto da Furna e a povoação de São João Baptista, com privilégio exclusivo por vinte anos, ainda que o Estado reservasse para si o direito de retirar a concessão logo que lhe conviesse explorar directamente aquela linha.
Pretende-se que no passado as gentes da Brava mandavam para os amigos na Boa Vista e no Sal sacos e mais sacos de batata-doce, e também balaios de boas e saborosas uvas. É natural que aqueles tenham retribuído pelo menos com tâmaras e sal, embora pareça quase certo que a Boa Vista também terá mandado a morna, ainda que sem desconfiar que ela ali iria atingir a sua expressão mais suave e apurada. Acompanhemos por isso um pouco mais o viajante Augusto Casimiro, esse português que também tirava versos: vamos descer com ele até à fonte do Vinagre, a tal da água que uma vez bebida para sempre faz amar a Brava; ali poderemos ouvir como as mulheres da ilha exaltam nho Eugénio cantando as suas mornas no afago das tardes.
Nosgenti.com