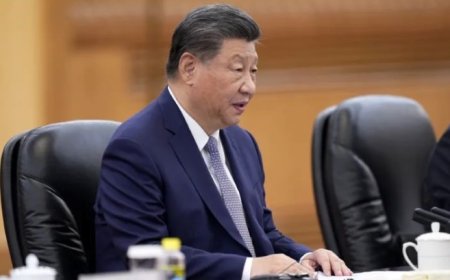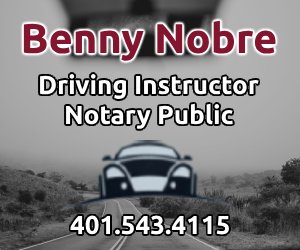Ser africano em Cabo Verde é um tabu

Cabo Verde não é África, os cabo-verdianos são “pretos especiais” e os mais próximos de Portugal. É o país da mestiçagem, a “prova” da “harmonia racial” do luso-tropicalismo. Durante anos esta foi a narrativa dominante. Ser ou não ser africano ainda continua como ponto de interrogação.
Jorge Andrade só fala crioulo. Sabe português mas escolhe a língua cabo-verdiana como meio de comunicação para afirmar a sua africanidade e marcar a distância do passado colonial. “O crioulo é uma arma de intervenção”, explica no estúdio da Rádio de Cabo Verde, onde dirige o único programa de rádio que fala das questões africanas. “A nossa capacidade de perceber, comunicar, pensar, sonhar é toda em crioulo. A gente sente-se livre quando se expressa em crioulo, e se sente oprimido quando fala a língua dos colonos.”
Clarificando, Jorge Andrade não é contra Portugal, nem contra os portugueses ou contra a língua portuguesa — é contra o imperialismo cultural europeu “sobre África e os africanos”. Nem sequer tem problemas em falar português. Mas sempre que puder usa o crioulo. Sempre que consegue, força os portugueses a tentar ouvir e falar em crioulo.
Ele é uma figura carismática e isso percebe-se pela forma como chega ao bairro Ponta d’Água em Junho deste ano, se senta em plena rua em frente a um grupo de jovens e fala das questões raciais como um pastor a espalhar uma mensagem, cheio de convicção e fé. É um homem que não está com meias palavras para dizer o que pensa. Tem umas longas rastas, presas numa espécie de touca branca, que lhe cai para a camisa branca e gravata escura.
Talvez por sabermos que viveu vários anos nos Estados Unidos, ao vê-lo em conversa com os jovens do bairro, lembramo-nos de figuras como Martin Luther King. Mais facilmente recorre a uma palavra em inglês do que em português para explicar melhor o que pensa. O grupo de cerca de dez jovens olha-o e ouve-o atentamente. A noite vai caindo, mas nem por isso há desmobilização ou desinteresse — pelo contrário, a conversa aquece à medida que mais gente se junta no passeio. “O interessante é que os africanos que estão fora do continente têm mais conhecimento sobre África do que nós que estamos cá”, comenta. “O nosso conhecimento de África é quase nulo”, lamenta, quando fala para os jovens. “A presença de África dentro da Bíblia, por exemplo, como é?”
Jorge Andrade falará do papel da religião e das novas igrejas, que ficarão mais lotadas se não se conseguir passar a cultura africana aos jovens, acredita. “Se África é uma religião, eu sou um pastor”, comenta. “Mas cada um é pastor da sua própria consciência.”
A missão diária de Jorge Andrade, que anda de bairro em bairro de forma discreta, é espalhar a palavra sobre a africanidade entre os jovens que têm sido bombardeados com as imagens miserabilistas de um continente onde existiu uma História antes de os europeus lá chegarem.
Aparece uma mulher no grupo, Keyla. Vem aprender sobre África e pan-africanismo, algo que não se ensina na escola. Um dos jovens, Tosh, 35 anos, explica que acha interessante o ensino e a narrativa oficial, desde cedo, terem passado a ideia de que os cabo-verdianos são diferentes dos “irmãos da costa ocidental”. Mandados para postos de chefia em outras colónias pelos portugueses, “até hoje os cabo-verdianos acham que não são africanos, que são mais inteligentes, mais sábios do que os irmãos que estão no continente”. Isso “veio desde a colonização, foi-nos incutida essa ideia. Hoje está a repercutir-se na nossa sociedade. Temos um grande problema de identidade. Mesmo que a História o mostre, o cabo-verdiano rejeita porque está no nosso DNA desde a colonização. Essa é a sociedade que temos, uma autêntica confusão”.
Tem havido ao longo dos anos várias definições de Cabo Verde como um país que não está nem em África nem na Europa. Muitos dos próprios cabo-verdianos incorporaram este conceito, ao ponto de essa ambiguidade fazer parte da definição de identidade que é descrita por algumas pessoas. Com isso vem a questão da mestiçagem, que Jorge Andrade define como “uma violência”: “Na hora em que se pensa em mestiçagem, pensa-se automaticamente em violação sexual” de uma africana por um europeu. “Na nossa cor de pele, é constante a lembrança do impacto do colonialismo e da escravatura”, afirma.
Uma das bandeiras de Jorge Andrade é o ensino da História de Cabo Verde antes da chegada dos europeus a África: “África tinha milénios de civilizações grandes e fortes”, contextualiza. “Essa é uma falha grave, Cabo Verde fala da sua identidade a partir da chegada dos europeus. Como é que um povo pode construir a sua história num acto de degeneração? Nunca um cabo-verdiano se pode sentir livre quando a sua História começa com a escravatura — fica com crise de identidade quando pergunta: quem sou eu?” Um pequeno exemplo: “Havia o império do Mali, séculos antes da chegada de portugueses; África teve a sua renascença antes, com o Egipto.”
Jorge Andrade não tem dúvidas de que a distanciação que os cabo-verdianos fazem de África é uma questão racial. “Enquanto houver supremacia branca, todas as coisas estão confundidas.”
Ele define-se como um afro-cabo-verdiano. Lembra que no arquipélago há sangue do Senegal, Gâmbia, Mali, Guiné-Bissau — a mistura não é apenas Cabo Verde e Europa. Acha determinante transmitir histórias da História aos jovens cabo-verdianos para repor uma versão que é silenciada — e para elevar a auto-estima, fazê-los levantar a cabeça.
“Somos africanos, obviamente. Mas, na prática, qual foi a política aplicada desde 1975 em defesa dos interesses africanos? Nenhuma. O Ministério da Educação que modelo de educação tem?” Da Saúde ao Direito, as referências vêm todas de Portugal — e as soluções não são, nem podem ser, as mesmas porque os problemas africanos são diferentes dos europeus.
A ambiguidade é tal que um cabo-verdiano chega a uma agência de viagens na Praia, a capital, na ilha de Santiago, e só vê pacotes turísticos para a Europa — nem um para África, acusa. “Sabe que não havia mapas de África em nenhuma livraria em Cabo Verde? Como é possível num país que é um exemplo de democracia não ter um mapa só de África?”
A projecção que os europeus fazem sobre o africano, o domínio económico, social, político e cultural que exerce influência e determina a capacidade de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento com base na raça é o que significa para ele o racismo. “Malcolm X dizia: ‘Quem vos ensinou a odiar a cor da vossa pele? Quem ensinou a odiar o formato do vosso nariz, da vossa boca, da textura do vosso cabelo? Foi o mesmo homem que quer continuar a ter domínio sobre vocês’.”
A ambiguidade cabo-verdiana foi produzida e alimentada pelos portugueses — até hoje. Em 1822, todos os habitantes do império colonial português foram considerados cidadãos; o estatuto do indigenato foi aplicado até aos anos 1960 em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau — era indígena a maioria da população nativa, à excepção dos assimilados, que tinham de cumprir determinados requisitos como comer à mesa com garfo e faca e falar português. Porém, foi reconhecido um estatuto especial a Cabo Verde pela “maior mestiçagem e proximidade de Portugal”, e em 1947 os cabo-verdianos seriam reconhecidos como cidadãos. Foram também enviados para a Guiné-Bissau para fazer parte da administração colonial. Por outro lado, assumiram o papel inverso nas roças de São Tomé e Príncipe, para onde foram fazer trabalho forçado quase até à independência. Esta é, porém, uma narrativa que tem sido bastante silenciada na história cabo-verdiana.
Como escreve António Tomás na biografia sobre Amílcar Cabral, [i]O Fazedor de Utopias[/i], “as várias administrações portuguesas nunca souberam claramente o que fazer de Cabo Verde”. “Enquanto a Guiné, Angola e Moçambique eram inequivocamente colónias de indigenato, Cabo Verde era um caso à parte. Os seus naturais eram civilizados e o arquipélago, legalmente, estava a meio caminho entre a colónia e a região adjacente, como a Madeira e os Açores. E era mais por razões logísticas do que políticas que nunca tinha sido dotado de um estatuto semelhante ao das ilhas portuguesas do Atlântico.”
África tatuada no braço
Edson Liver, 23 anos, tem o mapa de África tatuado no braço. Está a estudar Ciências da Educação e quer pôr os assuntos africanos nos currículos escolares. É sábado, mas dia de actividades na Universidade de Cabo Verde, e Edson fala-nos da sua paixão pela africanidade ao som da música que vem do pátio. Tem ido a reuniões com Jorge Andrade. Em muitos pontos, o seu discurso cruza-se com o dele. “Foi através dele que hoje reconheço a nossa história. A única rádio que tem um programa africanista é a RCV+. A única!”
Aliás, fez a tatuagem depois desse despertar. “Os conteúdos que estudámos na escola eram sobretudo europeus. Precisamos de afirmar a nossa identidade. Somos africanos geograficamente e politicamente, mas não temos a base para nos reconhecer como tal”, explica sobre a tatuagem que fez. Sente que na sua geração há um desinteresse por essa vertente da identidade cabo-verdiana. Não se fala do herói da independência Amílcar Cabral e de outros heróis nacionais como ele acha que se deveria falar; a consciencialização dessa africanidade é o trabalho mais complicado, reconhece.
Aos 24 anos e licenciada em Ciências Sociais, Evandra Moreira está a fazer um estágio no Instituto Cabo-Verdiano para Igualdade e Equidade de Género e a trabalhar como assistente de pesquisa. Também ela tem consciência de que existem problemas raciais e, apesar de considerar que não há racismo em Cabo Verde, a verdade é que se apercebe de que os cabo-verdianos têm atitudes de discriminação para com os africanos continentais. “A forma como tratamos os europeus e os irmãos africanos é diferente”, observa.
A valorização do que é ocidental e a desvalorização do que é africano nota-se na forma de os cabo-verdianos se vestirem, se pentearem — tudo remete para o Ocidente. “Até na forma de falarmos. Não nos preocupamos com as línguas das vizinhanças, é indiferente os pratos típicos, não nos preocupamos em ter relações de proximidade com os países africanos, mas queremos abraçar o que vem de fora e ter relações com a União Europeia, o Brasil, a América…”, critica.
Preocupa-a a linguagem usada, por exemplo, para elogiar mulheres — “é preta mas é bonita”. Ainda que seja comum as pessoas dizerem que não são racistas, a prática revela outra realidade, defende Evandra. Exemplo, ouvido na rua: um turista, só porque é de pele escura, então não é turista; turista tem de ser de pele clara, cabelo comprido e liso…
Banidos do testamento
O historiador António Leão Correia e Silva (n. 1963), actual ministro do Ensino Superior, Ciência e Inovação, tem uma visão mais optimista de Cabo Verde: “Das poucas sociedades de passado colonial, de passado escravocrata, que conseguiu desmontar, desconflituar a questão racial”, segundo ele. “Ninguém tem mais ou menos chances de ascensão social ou profissional ou política por ter a pele mais clara ou mais escura”, defende. Não existe na sociedade cabo-verdiana uma questão racial, o que não quer dizer que não existam resquícios disso. De uma pessoa bem-sucedida diz-se que se tornou branca, por exemplo. “O branco ficou uma metáfora do sucesso.”
Apesar disso, defende que o mito luso-tropicalista de que a colonização portuguesa é integradora e nela a “questão racial se diluiu” não é rigorosa “à luz de uma análise histórica”. “O racismo é uma ideologia oficial portuguesa e a mestiçagem foi combatida como política de Estado.”
Também um dos autores da [i]História Geral de Cabo Verde[/i], Correia e Silva, estudou vários testamentos de morgados, e nesses documentos notou “uma clara hierarquia entre filhos”. “A ideia era passar ao filho varão, legítimo e branco. Quando eram as mulheres a herdar, a questão era mais tensa — porque a defesa da mulher é a defesa da pureza racial; o homem pode ter filhos [com as indígenas], mas ficam na sanzala. Achava piada porque, em muitos testamentos, quando a mulher herdava, havia uma cláusula quase obrigatória — se casar com um homem preto, fica deserdada. A defesa da raça era uma coisa importante, porque a raça adquiria um valor simbólico.”
A sociedade é contraditória, mas não se pode dizer que, por causa disso, “como alguns querem concluir, não tinha uma ideologia racista: tinha”. Por outro lado, em alguns momentos, a mestiçagem foi uma estratégia de ascensão social. Durante o período da escravatura dizia-se que “a mulher que tinha paciência seduziria o branco para ter um filho, porque na escravatura o filho mestiço era um passo para a alforria — libertação do escravo — e, em casos mais raros, para o filho ser legitimado”.
A partir do século XVII, Cabo Verde deixou de ser um centro atlântico de distribuição comercial de mercadorias e de ter capacidade de atrair novos brancos, continua. Os brancos foram tendo filhos mulatos, “esses mulatos vão assumindo poder”: “Fala-se da ascensão do mulato, da ascensão do negro: não é sanzala que se torna casa grande, [o que acontece] é o abatimento da casa grande.”
Porém, o nacionalismo cabo-verdiano não apareceu por causa da questão racial, acredita. A reivindicação da independência ligou-se a uma especificidade cultural do arquipélago, que não estava a ser valorizada no quadro do império, defende. A geração do escritor Eugénio Tavares (1867-1930) acreditava num Portugal unitário, não num Portugal e suas colónias separadas. Essa geração “queria que o acesso aos cargos públicos não fosse objecto de discriminação pelo lugar de nascimento, pela raça”. A paridade tinha como fim des-racializar — “também tinha os seus aliados metropolitanos que defendiam o acesso à escola”. O historiador acrescenta: “A revolução de 1822 prometeu isso, quando veio a república de 1910 promete-se isso e vive-se em Cabo Verde um grande entusiasmo. Criou a ideia na elite de que ela era capaz. Como teve acesso à educação e como a sociedade se convence de que o capital escolar como acesso ao cargo público era muito mais seguro do que um investimento fundiário, a reivindicação pelo acesso à escola politiza-se muito cedo.”
A sociedade é essencialmente crioula mas compósita, conclui o ministro. “Às vezes, olhando de África continental, eles acham que Cabo Verde é demasiadamente euro-atlântico para ser África; olhando de uma Europa, é demasiadamente negro-africano para ser Europa. Talvez seja todas as coisas, talvez haja várias componentes, mas é uma África de fronteira”, defende.
In Publico